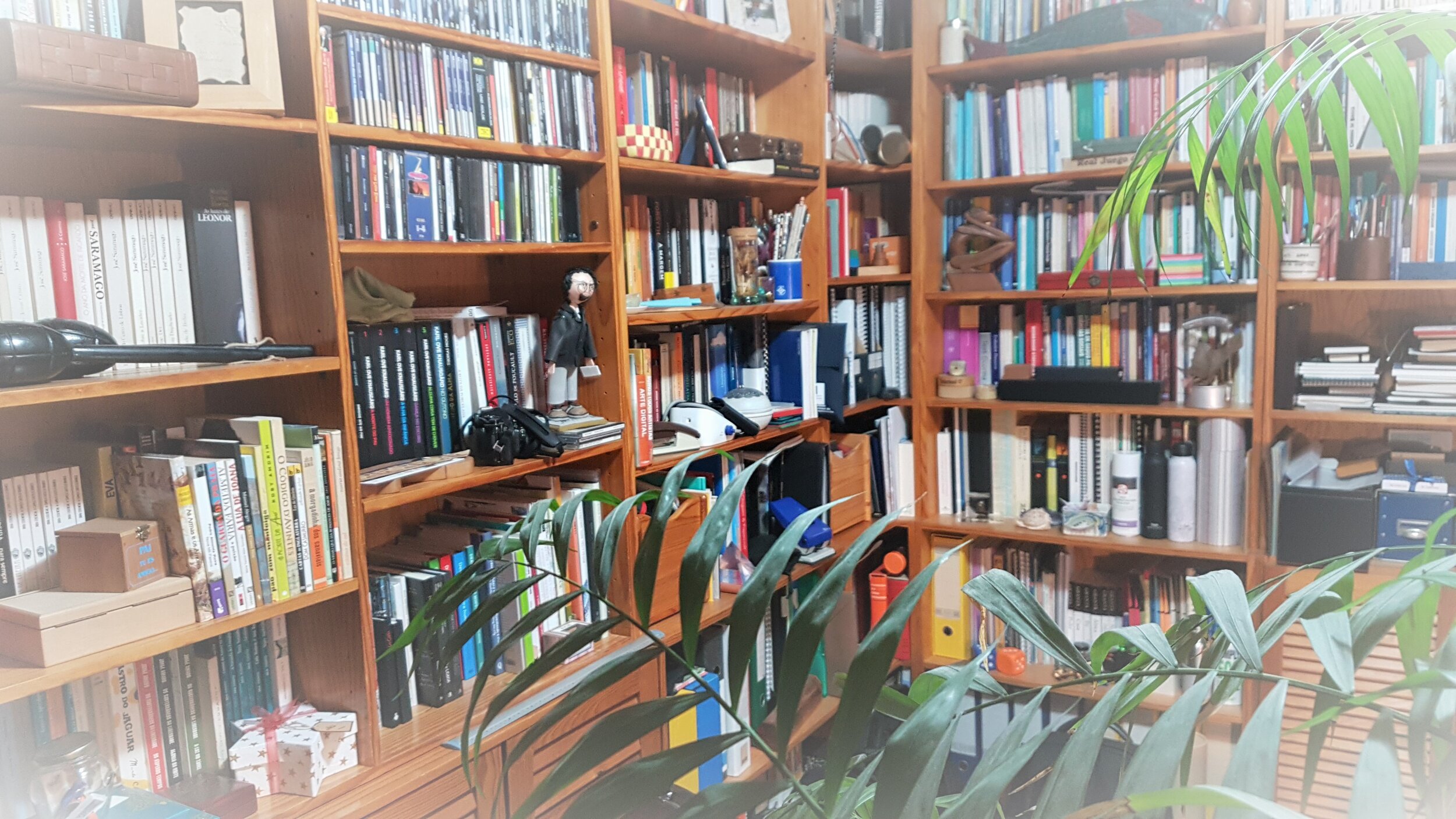
DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
“aprender o passado… pode mudar-nos o futuro”: a História que se ensina na voz dos alunos do ensino básico
Nos estudos sobre o ensino e aprendizagem da História no ensino básico (10-12 anos) é particularmente relevante investigar as práticas docentes em sala de aula. Esta é uma vertente fundamental, e também um desafio, do campo de investigação de qualquer didática específica: é a análise crítica da prática docente que implementamos que permite desencadear processos de mudança. Todavia, importa reconhecer que esta é uma tarefa muito difícil de concretizar.
A investigação realizada[i], entre 2016 e 2019, sobre o ensino da História na formação inicial de professores na Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), permitiu analisar o papel dos diferentes agentes educativos que intervêm na definição das práticas dos professores de História e Geografia de Portugal (HGP), no 2.º Ciclo do Ensino Básico (2.º CEB): estudantes e docentes dos cursos da formação inicial da ESELx, professores e alunos de HGP do 2.º CEB. Desta investigação, destacamos o estudo realizado num conjunto de turmas do 5.º e 6.º anos de escolaridade em escolas portuguesas, envolvendo 542 alunos de idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, centrado nas suas conceções de História.
Estes alunos, que são, em última análise, o essencial de qualquer trabalho em educação, têm sido uma voz demasiado silenciosa nas investigações que realizamos. Contrariando princípios pedagógicos e didáticos básicos, tendemos a ignorar a centralidade dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem, pese embora a evidência da importância de que se reveste a integração das suas conceções nos processos de investigação que desenvolvemos (Hurtado & Prieto, 2014; Prats, 2014).
Do mesmo modo que consideramos que as conceções de História dos professores influenciam a forma como gerem o currículo e as opções metodológicas que orientam a sua prática, também as conceções dos alunos sobre “o que é a História” nos ajudam a analisar e inferir que História lhes está a ser ensinada (Pagès, 2000; Andelique, 2012; Dias, 2019).
Assim, ao longo deste artigo propomo-nos apresentar e analisar as conceções de História de um conjunto de alunos do 2.º CEB e, a partir dessa análise, inferir “que História se ensina” e “que História se deve ensinar” neste ciclo de ensino.
Dias, A. (2023). “Aprender o passado… pode mudar-nos o futuro”: a História que se ensina na voz dos alunos do ensino básico. In https://static1.squarespace.com/static/5f1c7da5be67bc7f3de2418f/t/63e9537be704d16cd4f51c5d/1676235668479/Que+Histo%CC%81ria+se+ensina+PTvf.pdf. Publicado em www.alfredogdias.com (2023 02 12).
Ser historicamente competente
O Currículo Nacional do Ensino Básico, homologado em 2001[1], explicitava um conjunto de competências essenciais para cada área disciplinar e disciplina científica, e definia um conjunto de dez competências transversais que ofereciam as linhas orientadoras para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem das crianças ao longo da educação básica[2].
Reconhecemos algumas incoerências a este documento, nomeadamente a nem sempre óbvia articulação transversal entre as diferentes áreas disciplinares e a ausência de relações explícitas entre o currículo e os programas de cada uma das áreas disciplinares e disciplinas que se mantiveram em vigor. Contudo, o currículo de 2001 oferecia aos professores um conjunto de linhas orientadoras, tendo em vista alcançar o desenvolvimento de competências no final de cada um dos três ciclos do ensino básico. Quanto ao seu conteúdo, dava-se continuidade a um processo de construção de um currículo aberto, abrangente e flexível, e possível de adequar a cada contexto. A opção por um currículo definido a partir de competências dava ainda continuidade à relevância de garantir na sociedade portuguesa uma educação inclusiva capaz de chegar a todas as crianças e jovens, reconhecendo que a importância/necessidade dos conhecimentos deve ser cimentada no desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores que promovam cidadãos ativos, capazes de intervir nas mais variadas situações do seu quotidiano.
Se, por um lado, a revogação do Currículo Nacional em dezembro de 2011[3] não resultou de nenhum processo de avaliação fundamentado (o que é digno de registar), por outro, abriu um vazio que consideramos não ter sido preenchido pelo Decreto-Lei de 5 de julho de 2012[4], nem pelas metas de aprendizagem que foram sendo apresentadas para cada uma das áreas disciplinares e disciplinas científicas. A existência de um currículo nacional que define as linhas de orientação para o Sistema Educativo português foi substituída por uma “revisão da estrutura curricular”[5] que se traduz, na prática, numa conceção curricular assente num somatório de disciplinas.
Os momentos de mudança são também oportunidades de reflexão sobre a realidade que observamos e sobre a qual intervimos como profissionais e, principalmente, como cidadãos. Por isso, coloca-se hoje a questão de analisar os impactes destas mudanças no processo de ensino e aprendizagem da história na educação básica. Deixamos para outros fóruns a discussão mais abrangente que diz respeito à necessidade de ser criado um Currículo Nacional coerente na sua proposta de progressão vertical, ao longo dos ciclos e anos de escolaridade, e de articulação horizontal entre as diferentes áreas disciplinares e disciplinas científicas que o integram.
A visão que hoje vai prevalecendo é a de que o processo de ensino e aprendizagem por competências foi abandonado por força do despacho que revogou o Currículo Nacional de 2001. Em sentido contrário, importa considerar três premissas fundamentais que, em nossa opinião, devem ser equacionadas: (i) a definição das competências essenciais de ensino e aprendizagem emerge da epistemologia das ciências a que se referem, tendo, por isso, o conhecimento científico no centro da sua conceção; (ii) o ensino e aprendizagem por competências não resulta de uma determinação legal, mantendo-se como uma opção pedagógica aberta aos docentes que o entendam desenvolver, no âmbito da sua autonomia enquanto decisores últimos da gestão curricular que realizam dentro da escola e da sala de aula;[6] (iii) a opção do docente por uma abordagem por competências é compatível com o cumprimento dos programas que ainda se mantêm em vigor e com as metas de aprendizagem que entretanto se foram definindo.
Aproveitando este momento de mudança e reflexão, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da História no 1.º e no 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), importa equacionar a pertinência e, consequentemente, a justificação que estão na base de uma proposta que visa dar continuidade à abordagem curricular por competências. Mas, simultaneamente, considera-se também que é possível ir mais longe, reconhecendo a necessidade de aprofundar uma visão interdisciplinar entre a História e a Geografia naqueles dois ciclos de ensino.
___________
[1] Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro. Diário da República, I Série-A, N.º 15, pp. 258-265.
[2] Ministério da Educação. (2001). Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais. Lisboa: Departamento da Educação Básica.
[3] Despacho n.º 17169/2011. Diário da República, I Série, Nº 245, de 23 de dezembro de 2011, p. 50080.
[4] Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Diário da República, I Série, Nº 129, pp. 3476-3491.
[5] Decreto-Le n.º 139/2012, p. 3476.
[6] No documento de apoio às metas curriculares de História e Geografia de Portugal afirma-se o seguinte: “Tendo em consideração que a legislação em vigor reconhece aos professores a liberdade e a responsabilidade de organização do ensino nas disciplinas que lecionam e que o programa da disciplina de História e Geografia de Portugal já propõe um conjunto de estratégias relativamente diversificadas, optámos pela não inclusão neste documento de qualquer guião que explicitasse percursos — seleção de conteúdos programáticos, de estratégias e de recursos —, mesmo que meramente indicativos, para concretizar as finalidades e objetivos gerais do programa e para atingir as metas relativas à aprendizagem da História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico” (Documento de Apoio às Metas Curriculares de História e Geografia de Portugal, p. 3).
Dias, A. (2016). Do saber histórico à educação histórica. Estudo realizado para a obtenção do Título de Especialista na área da Formação de Educadores de Infância e de Professores do 1.º e 2.º Ciclo – Ciências Sociais. Lisboa: Instituto Politécnico de Lisboa (pp. 80-99).
O lugar da história no programa de Estudo do Meio do 1.º CEB e de História e Geografia de Portugal do 2.º CEB
No currículo do 1.º CEB, o ensino e aprendizagem da história insere-se na área disciplinar do Estudo do Meio. Algumas características devem ser realçadas no programa desta área que se encontra em vigor há já muitos anos, desde a reforma curricular de 1990 (Roldão, 1995). Esta autora identifica uma estrutura curricular por alargamento progressivo, do eu para os outros e a comunidade, do próximo para o distante, do familiar para o desconhecido, do presente para o passado.
Adotando uma perspetiva que se identifica com a tradição anglo-saxónica vulgarmente designada por Social Studies, o programa do EM ensaia uma abordagem prevendo a integração curricular de diferentes saberes, não só do campo das Ciências Sociais, mas, também das Ciências da Natureza. Neste particular, o programa revela-se, do nosso ponto de vista, como um exemplo de uma área disciplinar que reconhece a realidade como uma totalidade que só é possível apreender como tal se tivermos à nossa disposição os diferentes saberes disciplinares que, em última análise, social ou natural, todos dizem respeito às ciências do Homem.
Dias, A. (2016). Do saber histórico à educação histórica. Estudo realizado para a obtenção do Título de Especialista na área da Formação de Educadores de Infância e de Professores do 1.º e 2.º Ciclo – Ciências Sociais. Lisboa: Instituto Politécnico de Lisboa (pp. 99-119).
Finalidades do ensino da História
Começando pelo princípio, quando introduzimos o conceito de didática, acabamos sempre por privilegiar a origem grega da palavra – didaktiké – que significa a arte de ensinar. Confessamos o nosso apreço por esta definição que consegue sintetizar, em grande medida, as três principais dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem, no caso de estudo em concreto, da história (Hurtado & Prieto, 2014; Proença, 1989).
Assim, importa reconhecer que o processo didático envolve uma dimensão humana que não se deixa diluir nos métodos e técnicas cuja relevância e cientificidade não se questionam, mas que não substituem a qualidade da relação professor-aluno. De algum modo, quando falamos na arte de ensinar estamos a falar na arte de comunicar, na capacidade de conceber, construir, experimentar, avaliar diferentes formas de fazer passar mensagens, mobilizando saberes, recursos, instrumentos de avaliação e, principalmente, construindo uma relação empática que se transfere, muitas vezes, do professor para o conteúdo, o conceito, o saber em geral, que está a ser trabalhado na sala de aula. A tudo isto não é estranha a criatividade do docente que, imprimindo a sua singularidade ao trabalho que desenvolve, é capaz de ser o “autor” da sua aula.
Mas, como todas as artes, também a arte de ensinar tem a sua dimensão técnica, exigindo uma planificação ponderada, que coloque em diálogo conteúdos e contextos (alunos e meio), necessidades, potencialidades e fragilidades, sequenciando intencionalidades educativas que garantam o desenvolvimento de competências junto dos alunos e a concretização dos objetivos definidos.
Por fim, a arte de ensinar integra-se numa determinada dimensão cultural que contextualiza as opções metodológicas do docente, as suas escolhas que devem ser alvo de uma reflexão e avaliação permanentes, o que exige, por sua vez, professores disponíveis para se sentirem inquietos com o seu trabalho e para o reformular, professores reflexivos capazes de (re)construir a sua prática em função da análise diária que realizam ao seu desempenho.
Deste modo, no caso da didática específica de uma disciplina, esta assume-se como um processo criativo, que exige a mobilização de competências, que se relacionam: (i) com o campo científico específico, e (ii) com as ferramentas de análise dos contextos, no que diz respeito à caracterização dos alunos e do meio em que se inserem.
Dias, A. (2016). Do saber histórico à educação histórica. Estudo realizado para a obtenção do Título de Especialista na área da Formação de Educadores de Infância e de Professores do 1.º e 2.º Ciclo – Ciências Sociais. Lisboa: Instituto Politécnico de Lisboa (pp. 125-134).